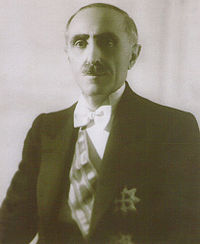O artigo da segunda-feira passada dia 15, publicado por nossa colunista Rafaela, elevou os ânimos de muitos leitores. De um lado, os monarquistas abriram sorriso de orelha a orelha porque, pela primeira vez, foram representados aqui no blog e isto, a meu ver, é bom. Do outro, os que repudiaram a publicação. O objetivo deste artigo é fornecer um contraponto com a minha opinião sobre o assunto.

Antes de iniciar este artigo, portanto, explicarei o seguinte:
1. Neste blog os articulistas tem a liberdade de expressar a sua opinião, por mais contraditória que esta seja com a de outros articulistas. Isso significa que em uma postagem pode-se defender a legalização das drogas e em outra defender-se o contrário. Um artigo pode ser mais conservador, outro mais liberal.
2. Como nosso objetivo é a divulgação de idéias de diferentes vertentes do pensamento político da direita, um mesmo articulista pode publicar textos totalmente contraditórios entre si. Pode-se postar um texto de Burke em um dia, e um de seu rival Paine no outro. Eu mesmo adoto por política de publicação alternar entre artigos conservadores e liberais, não me preocupando em expor as idéias de conservadores como Kirk e Carvalho embora eu seja liberal.
3. Assim como nossos articulistas, nossos leitores tem liberdade para se expressar. Nossa política de moderação de comentários é bastante flexível e buscamos sempre, na medida do possível, publicar todos eles. Igualmente, nossos leitores tem direito de resposta e podem enviar suas críticas aos conteúdos publicados através do e-mail direitasja@gmail.com. As vezes ocorre de um artigo gerar uma réplica, a réplica uma trépica, etc.
Agora sim, efetivamente, começa o artigo.
Argumentos levantados contra a República
Basicamente, os argumentos levantados contra a República são os seguintes:
- A República é mais cara que a Monarquia por causa dos privilégios pagos aos políticos e sobretudo ex-presidentes.
Refutação: a maioria das monarquias citadas também bancam privilégios para seu governo e para a família real. Porém, a maioria das monarquias são governos cuja população não chega nem à metade da população de um país como o Brasil. A máquina pública daqui seria muito maior e provavelmente muito mais cara. O erro consiste, portanto, no excesso de privilégios garantidos aos políticos em geral, pouco importando a forma de governo.
- A República é ilegítima neste país porque foi instaurada por golpe.
Refutação: Irredentismo puro. Pouco importa a forma como um governo foi instaurado, sobretudo mais de um século depois do ocorrido. O que importa é a aceitação continuada do mesmo ao longo do tempo.
- Em uma República, os cargos de chefe de Estado e chefe de governo estão concentrados em uma só pessoa, o Presidente.
Refutação: De fato, a República Presidencialista é a forma de governo mais próxima do Absolutismo que existe na política contemporânea. A resolução do problema seria o parlamentarismo, plenamente realizável dentro de uma República.
- Em uma República, os interesses do governo podem ser dissociados do Estado e do interesse do povo, uma vez que interessa mais a reeleição e a permanência no governo, o que não é preocupação de um monarca.
Refutação: Se um monarca não depende de aceitação popular para permanecer no poder, não há razões para crer que seus interesses coincidirão com os do povo ou que suas políticas atentarão para as prioridades do Estado.
- Em uma República, o chefe máximo do governo e do Estado não é uma pessoa preparada especificamente para sua função, apenas uma pessoa que venceu em um concurso de carisma.
Refutação: Neste ponto, realmente, a monarquia parece levar a vantagem num primeiro momento. Porém, esta forma de tecnocracia ignora o fato de que pessoas de distintas atividades profissionais e setores sociais podem trazer conhecimentos relevantes para a arena política, o âmbito público. Do contrário política perderia o seu sentido original de âmbito público, reduzindo-se meramente a uma atividade administrativa.
- Em uma República, os políticos cuidam do dinheiro como se fosse propriedade alheia e, portanto, não estão interessados na integridade do erário público ou no controle de gastos.
Refutação: Partindo do pressuposto que o monarca disporia do erário público como se fosse sua propriedade privada (patrimonialismo) este argumento poderia estar certo. Infelizmente para os monarquistas, isso não acontece há séculos e o patrimonialismo não é visto como legítimo nem mesmo em governos monárquicos atuais.
Argumentos levantados em favor da Monarquia
Hoje em dia são poucos se comparados com abordagens mais específicas como a de Edmund Burke, mais aí vão:
- O custo de manter um governo monárquico é menor.
Refutação: Como já foi mencionado, os governos monárquicos contemporâneos são de Estados nacionais relativamente pequenos se comparados com as repúblicas. Não há garantia de que, se aplicado em um país de proporções do Brasil, dos EUA ou da China, o seu custo seja menor do que as atuais formas de governo.
- Em uma Monarquia, os índices de corrupção são menores.
Refutação: O índice apresentado tem uma curiosa coincidência. Todos os países que lideram o ranking de corrupção são repúblicas presidenciais. No entanto, nos países menos corruptos a coincidência é que a forma de governo é parlamentar, seja monárquica ou republicana. A conclusão é óbvia: é o parlamentarismo, e não a monarquia, o responsável pela baixa corrupção.
- Um monarca governa “para as próximas gerações e não para as próximas eleições”.
Refutação: Um monarca não é eleito, e portanto não necessita de aprovação popular. Somente a morte, a deposição ou a renúncia podem tirá-lo do governo, uma vez que ele exerce seu cargo de modo vitalício e hereditário. Sendo um direito do povo eleger os seus governantes e o seu dever garantir os direitos da próxima geração, uma geração não pode escolher tirar da próxima o direito de escolher o seu governante. Disto decorre que todos os cargos políticos vitalícios ou hereditários são ilegítimos: não se pode escolher tirar o direito de escolha dos outros, mesmo que estes outros sejam a geração vindoura.
- Um monarca é preparado toda a sua vida especificamente para a sua função.
Refutação: Este argumento seria válido e positivo se o monarca fosse eleito por concurso. Mas não é o que acontece: ele herda o cargo. Como a habilidade para governar não é hereditária, um excelente gestor pode ser sucedido por um inepto que arruine todo o seu trabalho. A diferença de background social e profissional dos candidatos à Presidência ou ao cargo de Primeiro-Ministro, por sua vez, é um ponto favorável à República.
Argumentos que levanto contra a Monarquia
Uma geração não tem o direito de impedir a outra de escolher o seu próprio governante. Disto decorre que qualquer cargo político de caráter vitalício ou hereditário é ilegítimo. Afirmar o contrário é determinar que uma geração não tem o direito de escolher o próprio governante e portanto um monarca ou um presidente tem direito natural ou divino de governar contra o consentimento dos governados. Isto seria uma defesa aberta da tirania.
Cargos vitalícios estão sujeitos às debilidades humanas como a doença e a senilidade. Cargos hereditários estão sujeitos à crises familiares de sucessão e frequentemente necessitam de uma forma de regência temporária que viola por completo a idéia sobre a qual a monarquia se sustenta: se qualquer um, independente de fazer parte da família real, pode assumir o governo temporário e exepcional enquanto o príncipe-herdeiro não está pronto para assumir, porque não poderia fazê-lo sob caráter permanente e regular?
Se um monarca é um especialista em governar, não há necessidade de que seu cargo seja hereditário uma vez que esta especialização não é herdada e, em princípio, qualquer mortal pode adquiri-la através de educação e treinamento. Se o seu cargo é hereditário, entretanto, não há garantia qualquer de que um bom governante será sucedido por outro bom governante.
Argumentos que levanto a favor da República
Quando cargos políticos são temporários, há a possibilidade de renovação no governo sem a necessidade de usar de recursos mais violentos como a deposição, o golpe ou a chacina de uma família inteira porque é da dinastia rival. O caráter temporário do governo também facilita a prestação de contas e o acompanhamento das políticas e metas: o político que conseguiu realizar projetos importantes dentro do prazo tem o que mostrar para o eleitor.
A eleição é uma forma de averiguar a aceitação popular de um governante. Como em um mercado, aquele que não agrada o eleitorado é simplesmente boicotado.
O fato de que os candidatos a cargos políticos não são especialistas, “políticos profissionais”, favorece a entrada de novos conhecimentos e distintas perspectivas na arena política: pessoas de diferentes profissões, de diferentes realidades sociais, tem perspectivas diferentes sobre os problemas e respostas diferentes para as questões que se apresentam. Sem este mecanismo, perde-se a capacidade de repensar soluções.
Conclusão
A maioria dos pontos levantados em favor da Monarquia são, de fato, aspectos positivos encontrados em qualquer governo parlamentar. A monarquia constitucional, parlamentar, pode apresentar algumas vantagens sobre a república presidencialista. A república parlamentar, no entanto, aproveita os pontos positivos sem incorporar os defeitos da monarquia.